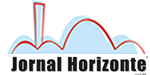Desde a eclosão do novo conflito entre Israel e Hamas, as redes sociais foram infestadas de manifestações que buscam justificar a violência terrorista contra judeus e algumas que atribuem os ataques à própria religião islâmica. O entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal (STF) é que os dois tipos de discurso são criminosos.
Nos últimos anos, o ministro Alexandre de Moraes empenhou-se no combate a “ataques” aos colegas, ao STF e outras instituições – em geral, ofensas e supostas ameaças que, em tese, representariam risco à independência do Judiciário e ao próprio regime democrático. Insultos, impropérios, afrontas, bravatas, provocações e tentativas de intimidar os ministros passaram a ser rotuladas, de forma genérica e pouco técnica, por Moraes e outros colegas, de “discurso de ódio”.
Mas antes disso, em julgamentos considerados históricos, a Corte discutiu mais a fundo o significado desse termo quando ratificou condenações por racismo de quem propagava ideias antissemitas, num caso, e críticas ao islamismo, em outro.
Autor de livros que negavam Holocausto foi condenado por racismo
Em 2003, a maioria dos ministros manteve a condenação de Siegfried Ellwanger, brasileiro e autor de livros que negavam o holocausto e expressavam desprezo por judeus, especialmente do sionismo, movimento surgido no século 19 que influenciou a criação do Estado de Israel, em 1948.
“Escrever, editar, divulgar e comerciar livros ‘fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias’ contra a comunidade judaica constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade”, decidiu o STF na ocasião.
O crime de racismo é definido na lei como o ato de “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. É um dos poucos delitos que não prescreve, ou seja, pode ser punido mesmo que muito tempo depois de cometido.
Uma das grandes contribuições desse julgamento foi rejeitar a ideia de que raça seria um conceito ligado a biotipos humanos, de acordo com características da cor da pele, formato do nariz, de cabelos, etc. A Corte entendeu que racismo é a tentativa de subjugar, explorar ou eliminar algum grupamento humano, por razões históricas, sociais ou políticas. A incitação ou induzimento dessa conduta poderia ser classificado como discurso de ódio, o que também configura o crime de racismo.
Na época do julgamento, uma corrente minoritária – formada por Moreira Alves, Carlos Ayres Britto e Marco Aurélio Mello – votou contra a condenação de Ellwanger, pois consideraram que não havia manifestações racistas ou preconceituosas contra a etnia ou a religião judaicas, mas sim um revisionismo histórico sobre o nazismo e uma crítica política ao sionismo.
Mesmo considerando tais visões absurdas ou detestáveis, os três consideraram que elas estavam protegidas pela liberdade de expressão. “Não identifiquei qualquer manifestação de induzir o preconceito odioso no leitor. Por óbvio, a obra defende uma ideia que causaria repúdio imediato a muitos, e poderia até dizer que encontraria alguns seguidores, mas a defesa de uma ideologia não é crime e, por isso, não pode ser apenada. O fato de alguém escrever um livro e outros concordarem com as ideias ali expostas não quer dizer que isso irá causar uma revolução nacional”, afirmou Marco Aurélio à época.
Apesar disso, a maioria entendeu que as ideias antissionistas dos livros eram, no fundo, antissemitas, e que isso afrontaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do pluralismo.
“Publicações que extravasam, abusiva e criminosamente, os limites da indagação científica e da pesquisa histórica, degradando-a ao nível primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e ao ódio público contra os judeus (como se registra no caso ora em exame), não merecem a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de manifestação do pensamento”, afirmou Celso de Mello, atualmente aposentado.
Gilmar Mendes alertou, à época, para o ressurgimento do antissemitismo na Europa, o que levou vários países a proibir partidos nazistas e a aprovar leis criminalizando a banalização, a negação ou a justificação do holocausto. “Uma compreensão dos direitos fundamentais que não se assente apenas em uma concepção liberal certamente não pode dar guarida, no âmbito do direito à liberdade de expressão, a manifestações antissemitas tão intensas como as que ressaem dos autos”, disse.
No início do ano passado, o ministro reafirmou esse entendimento ao criticar declarações do apresentador de podcasts Bruno Aiub, o Monark, que defendeu a possibilidade de existir no Brasil um partido nazista, sob o argumento de que sua exposição contribuiria para a crítica pública a essa ideologia. “Qualquer apologia ao nazismo é criminosa, execrável e obscena”, postou Gilmar Mendes nas redes.
Alexandre de Moraes fez coro: “a Constituição consagra o binômio: liberdade e responsabilidade. O direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia ao nazismo”, publicou o ministro.
Meses depois, Monark foi banido das plataformas por críticas que fez ao STF.
Crítica ao Islã também é crime, segundo o STF
Em 2018, a Segunda Turma do STF manteve a condenação por racismo do pastor Tupirani da Hora Lopes, líder da igreja Geração Jesus Cristo por críticas pesadas que fez ao islamismo e também às religiões católica, judaica, espírita, satânica, wicca, umbandista e a ainda outras denominações evangélicas. Para a maioria dos ministros, a liberdade de expressão religiosa não admite manifestações de intolerância contra as crenças de outras pessoas.
Num vídeo divulgado na internet, Tupirani disse que iria jogar no lixo livros de “ciências ocultas”, sobre feitiçaria antiga e alta magia e que nessas seitas as pessoas sofrem, padecem, são estupradas, violentadas, vivem em medo, angústia e aflição. Depois, afirmou que o satanismo é “pilantragem e hipocrisia”, e que seria “uma religião assassina como o islamismo”.
Com base nisso, os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello mantiveram sua condenação. O único a divergir, Edson Fachin, relator do caso, votou contra a condenação, pois entendeu que não havia, nas pregações, incitação à eliminação, a atos de violência ou mesmo a restrições de direitos contra adeptos das outras religiões.
Para Fachin, a liberdade religiosa permite que as pessoas digam publicamente que sua religião é superior às demais, inclusive criticando-as, de modo a convencê-las a aderir a outra crença. O limite estaria em manifestações que pregam a “exploração, escravização ou eliminação do indivíduo ou grupo tido como inferior”, o que não teria ocorrido no caso.
“No embate entre religiões, a tolerância é medida a partir dos métodos de persuasão (e não imposição) empregados. Nessa direção, no contexto religioso, a tentativa de persuasão pela fé, sem contornos de violência ou voltados diretamente ao ataque à dignidade humana, não destoa das balizas da tolerância a ponto de legitimar a incriminação na seara penal”, afirmou.
Por isso, para ele, a pregação de Tupirani, embora “indiscutivelmente intolerante, pedante e prepotente”, não seria criminosa, daí o voto pela absolvição do pastor.
Os demais ministros, porém, consideraram que a inferiorização das outras religiões já é motivo suficiente para condenar pelo crime de racismo, tipificado como ato de “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.
Toffoli afirmou que a pregação de Tupirani “atinge diretamente o direito de crença do outro e a própria integridade de conduta de seus fiéis”. A liberdade religiosa, para ele, pressupõe o respeito às crenças alheias.
“Os limites ao direito à liberdade de crença (e de professá-la, por natural) são os mesmos, qualquer que seja a fé considerada, não se admitindo que o propósito de conquistar fiéis assegure, ou em qualquer medida legitime, a desqualificação de qualquer outra crença (ou descrença)”, disse. Assim, seria criminoso o discurso com “deliberado propósito de aniquilamento ou desmerecimento de outra religião”.
Gilmar Mendes seguiu o mesmo entendimento. “Não obstante seja assegurada essa liberdade de professar sua fé, em público, através de culto, observâncias das regras próprias e o ensino dessa linha teológica, deve haver o respeito às ideologias religiosas dos demais concidadãos sem que se atinjam de maneira vil as convicções alheias.”
Celso de Mello, por sua vez, considerou que discursos religiosos que afrontam outras crenças não podem ser admitidas na democracia.
“Regimes democráticos não convivem com práticas de intolerância ou, até mesmo, com comportamentos de ódio, pois uma de suas características essenciais reside, fundamentalmente, no pluralismo de ideias e na diversidade de visões de mundo, em ordem a viabilizar, no contexto de uma dada formação social, uma comunidade inclusiva de cidadãos, que se sintam livres e protegidos contra ações estatais (ou particulares) que lhes restrinjam os direitos por motivo de crença religiosa o de convicção política ou filosófica”, escreveu em seu voto.